Texto de Leonardo da Silva Alves
Trata-se de uma discografia comentada. Eu quis colocar a ordem “do pior ao melhor” seguindo basicamente meu gosto e um pouco do meu conhecimento acerca da banda. Mas o leitor não precisa se apegar a essa ordem. Pode ler como resenhas autônomas. Espero ter contribuído um pouco àqueles que gostariam de adentrar na discografia desta banda icônica, que deixou um legado de valor inestimável não somente para o rock, mas para a música, no geral. Este texto também é uma homenagem aos 70 anos de Freddie Mercury.

Made in Heaven – 1995
Made in Heaven foi anunciado como o álbum póstumo contendo últimas gravações de Freddie Mercury junto ao Queen. Realmente o disco apresenta duas canções que Mercury deixou vocal gravado poucos meses antes de morrer, e que são posteriores à gravação de Innuendo (1991). Infelizmente o restante do álbum é uma colcha de retalhos: B sides de períodos diversos retrabalhados, canções inconclusas que foram finalizadas para o projeto (“It’s a Beautfull Day”, da época do The Game; “You Don’t Foll me”, da época do Hot Space), além de uma participação de Freddie Mercury no disco de estreia do projeto paralelo de Taylor, The Cross (“Heaven for Everyone”, de 1987) que foi rearranjada. O pior de tudo é que os remanescentes do Queen fizeram algo no mínimo questionável: tomaram duas canções do disco solo de Freddie (Mr. Bad Guy) e deram uma “modernizada”. Um disco que vale, especialmente, pelas duas últimas canções realmente gravadas por Mercury, nos seus momentos derradeiros: “Winter’s Tale” e “Mother Love”.
Flash Gordon / Original Soundtrack – 1981
Flash Gordon encontra-se nesta posição, não por ser um álbum ruim, mas por não ser, oficialmente, um trabalho de canções, com exceção de duas: “Flash Theme” e “The Hero”. O restante do disco é composto com faixas instrumentais mixadas junto às falas dos personagens da película. Aqui e ali, podemos encontrar bons momentos: “In The Space Capsule”, “Football Fight” e “The Kiss (Aura Ressurrects Flash)”. Se alguém quiser imergir no trabalho da rainha, não é aconselhável começar por este álbum. Ele funciona bem como um adendo na discografia do grupo.
Hot Space – 1982
Um dos discos mais amaldiçoados da história do rock. O Queen ficou muito entusiasmado com o sucesso de “Another One Bites The Dust”, que chegou aos primeiros lugares das paradas de música black norte-americana. Resolveram, então, aproveitar a onda e ousar através de um álbum dançante, com flertes no funk, disco, rhythm & blues, além de carregarem mais na dosagem de elementos eletrônicos. O resultado ficou bem aquém do esperado. John Deacon em “Back Chat” não consegue repetir o prodígio de “Another one bites the dust”. “Body Language” é uma canção estranhíssima para os padrões do Queen. Um Krafwerk acrescido de sensualidade e gritos orgásticos; tudo em cima de uma base eletrônica minimalista. Permanece mais como um arrojo experimental do que uma boa canção. Mas três faixas salvam a bolacha de um possível ostracismo: “Put ou the fire”, um rock básico de Brian, “Cool Cat”, de Mercury /Deacon (dessa vez o baixista acerta a mão com a ajuda do vocalista) e a clássica “Under Pressure”, parceria com David Bowie; talvez uma das músicas mais importante do repertório da banda nos anos 80. Ultimamente a crítica tem sido mais amena com o álbum. Há uma lenda que Michael Jackson se inspirou na sonoridade “disco-rock” de Hot Space para criar seu Best Seller, Triller. Algo que não duvido.
The Works – 1984
Terceiro disco com o produtor Reinhold Mack, The Works foi a tentativa de sintetizar elementos eletrônicos com o rock de uma forma mais coesa do que seu antecessor, Hot Space. Resultou num LP cheio de hits, a começar por “Radio Ga Ga”, de Roger Taylor. Uma canção que apesar de ser quase toda alicerçada em sintetizadores e loops de bateria eletrônica, tem um encadeamento harmônico vigoroso e boa melodia. A letra critica a cena musical, mais voltada para a aparência e o videoclipe, do que para a qualidade musical (vale lembrar que era época do boom da MTV). Nos shows “Radio Ga-Ga” ganha peso e funciona melhor. “I Wanto to Break Free”, de Deacon, foi outro grande hit. É uma canção que podemos observar a mão do produtor, que tinha como lema: “menos é mais”. O cerne da canção é bem enxuto. Baixo e bateria nas estrofes, guitarras discretas na ponte e solo de teclado. Funcionou muito bem. A versão do single tem arranjos extras de teclado. Mas a versão do disco é mais direta e funcional. O álbum ainda contém “Hammer to Fall”, um dos melhores rocks oitentistas de Brian May, “Is This the World we Created”, de May / Mercury; uma canção acústica pungente, que sempre fez bonito nos últimos concertos da banda e “It’s a Hard Life”, o tipo de balada clássica do Queen (composta por Freddie), com piano, coros vocais na abertura e interpretação magistral de Mercury. Geralmente os fãs da primeira fase da banda não gostam do álbum. Mas é inegável que foi um grande êxito do grupo. Muito roqueiro atual gostaria de ter um The Works para ser seu melhor disco.
A Kind of Magic – 1986
O produtor de Highlander, Russell Mulcahy, convidou a banda para gravar faixas para o filme em questão. O trabalho deu ânimo ao grupo e eles resolveram juntar mais algumas músicas e lançar como um álbum oficial. Como em todos os discos da banda dos anos 80, ele se divide entre uma investida mais orgânica, aliada à presença de elementos pop. No cômputo geral, é um belo trabalho. Quem não se emociona com a melodia de “Who Wants to live forever?”, seu arranjo bombástico e o desempenho imaculado de Freddie nos vocais? O disco traz também um bom hard rock, com feição indelével dos anos 80, “One Vision”, que foi trilha do filme Iron Eagle (Águia de Aço). Outro grande destaque é a canção “Princess of the universe”, um rock virulento, que está no mesmo nível de canções do passado setentista da banda, como “Tie Your Mother Down” e “Ogre Battle”. Temos também “Friends Will be Friends”. Não fosse o arranjo tão pasteurizado, seria uma daquelas baladas pianísticas, típicas da fase áurea da banda. É uma música que funciona melhor no palco. Por fim, cabe citar “Gimme the Prize”, pesadíssima, chumbada numa guitarra encorpada e no vocal de notas altas de Mercury. Brian com sua guitarra emulou o som de uma gaita de foles.
The Game – 1980
Finalmente a banda chega aos anos 80. Depois da recepção pouco calorosa do belo registro Jazz, de 1978 (que levaria alguns anos para ser posto no seu devido lugar de clássico), eles resolvem mudar muitas coisas. A começar pelo produtor: Trocaram Roy Thomas Baker por Reinhold Mack. O grupo ficou muito entusiasmado com as ideias do jovem produtor e decidiram que era hora de explorar novos sons. É o primeiro álbum a contar com sintetizadores; e isso foi uma decisão complexa para banda: estavam abdicando de algo que há muito era uma postura ligada aos ideais dos quatro integrantes. Nos discos anteriores, eles faziam questão de estampar nos encartes e contracapas que “ninguém tocou sintetizador”. The Game também é o primeiro álbum no qual Freddie toca violão – de uma forma um tanto desajeitada. The Game é o primeiro disco que eles conseguem emplacar duas canções no topo das paradas norte-americanas: “Crazy Little Thing Called Love” (de Freddie /e com Freddie nos violões) e “Another One Bites the Dust” (composta por John Deacon). Taylor não gostava dessa última canção (“porra, isso não é rock”), mas um célebre amigo de Mercury, Michael Jackson orientou-os a lançá-la como single. Para desgosto de Taylor, a canção foi lançada como single e obteve sucesso estrondoso.
Se por um lado havia sintetizadores, por outro, ainda havia espaço para canções mais orgânicas, como a fulgurante balada de May, “Save Me”, o rockabilly já citado, “Crazy Little Thing Called Love” e a belíssima “Sail Away Sweet Sister”.
“Rock it (Prime Jive)” de Taylor é um rock acelerado alicerçado em um arranjo moderno, com a presença dos sintetizadores e flertando com a New Wave. O ponto alto do registro é a introdução, cantada por Mercury, que consegue atingir notas elevadas sem perder o fôlego. O restante da canção é cantada por Roger, que também faz bonito nos vocais.
Para um disco de duração tão curta (aproximadamente 35 minutos), dois momentos mais fracos acabam por se tornar uma nódoa na obra: “Don’t Try Suicide”, de Mercury e “Coming Soon”, de Taylor representam a “gordura” presente neste disco.
Mas “Dragon Attack” de May, um rock grosseiro e petulante, encadeado em cima de um riff inesquecível, que inclui solos de guitarra, baixo e bateria ajuda a manter o astral e a qualidade elevada do disco. Assim como a balada de abertura, “Play The Game”, cuja inclusão de sintetizadores não tirou o sabor de uma clássica balada pianística da lavra de Mercury.
No cômputo geral, é um bom disco. Não está no nível de suas obras-primas anteriores. Mas é indiscutível que a banda soube adentrar bem com The Game nos complicados anos 80. Claro, Hot Space já seria outra história.
The Miracle – 1989
Os piadistas de plantão aventaram que o título do álbum era referente aos três anos sem um novo lançamento de estúdio da banda; e levando em consideração, também, os projetos individuais: Mecury gravou Barcelona com Monserrat Caballet; e Roger estava envolvido com sua banda paralela, The Cross. Assim, o “milagre” seria a volta do Queen. E eles voltaram com tudo! Internamente, haviam tomado uma decisão importante: todas as faixas seriam creditadas aos quatro componentes da banda. Isso aliviou a guerra de egos e brigas financeiras oriundas de direitos autorais. Nessa época, Freddie já estava doente e não há registros das canções de The Miracle nos palcos.
Os destaques ficam por conta da faixa-título, uma música que fala sobre os prodígios da vida, da arte e almeja um mundo pacífico. Em cima dessa letra simples, há uma retomada de arranjos complexos, variações, harmonias vocais, solos de guitarra cheios de alma. A última grande balada que a banda fez nos 80’s. Seria ousado dizer que é a “Bohemian Rapsody” de um Queen na maturidade?
Outra canção que se tornou emblemática foi “I want It All”. Seria a tentativa da banda de fazer um rock clássico, cru e usando harmonia de acordes mais diretas. Mas o resultado é grandioso. As variações de ritmo entre primeira e segunda estrofe, intermezzo com sintetizadores e a voz de Brian que prenuncia um dos melhores solos do guitarrista. Freddie articula muito bem seu “drive” vocal num tom um pouco mais baixo do que costumava, dando uma coloração ríspida aos versos. E o refrão? Simples e cantarolável, como de “We will Rock you”.
Quem imaginaria que o vocalista que dá uma aula de canto/interpretação em “Scandal” estava doente? Rock com uma abordagem moderna, baixo reto e funcional. É outro grande destaque dessa obra. Muitos fãs averiguam que foi Brian quem a compôs. Música que fala sobre o sensacionalismo da mídia. E tem-se a impressão que se trata de um desabafo, já que a doença de Freddie (embora ele negasse qualquer problema de saúde) era tema nos tabloides, bem como a vida conjugal de May, que estava em farrapos. Roger Taylor revelou não gostar da canção, talvez por causa de seu arranjo demasiado oitentista. Quem sabe se eles tivessem colocado a mesma abordagem de arranjos que fizeram em “I Want It All”, agradaria mais o baterista. Independente do que Roger pensa da canção, os fãs adoram. E com razão.
Há momentos mais descontraídos no álbum: a beleza simples de “Rain Must Fall” e um Blues não ortodoxo, levado por uma linha de baixo sólida e loops de bateria eletrônica (“My Baby Does Me”). Talvez um momento de relaxamento para o ouvinte, que se excita novamente com um rock poderoso, “Was It All Worth It”. Guitarra no talo, um belo refrão e uma orquestração criada por Freddie nos teclados. A música soa como uma despedida, pois traz uma reflexão do que é estar em uma banda, “viver e respirar rock n’ roll”. Mas ainda não seria a despedida da rainha.
Innuendo – 1991
Uma grande banda não poderia se despedir de qualquer jeito. Freddie sabia que o tempo não estava trabalhando em seu favor; a doença avançara e ele perscrutava o fim iminente. O que, de certa forma, ao invés de coloca-lo numa situação de derrotado, lhe deu mais ímpeto para continuar. Dessa forma entre as gravações de The Miracle e Innuendo, por insistência de Freddie, não houve pausa. Todos os membros da banda sabiam que a história estava chegando ao término. Mas nem por isso, deixaram a “peteca cair”, a criatividade esmorecer. Dá para afirmar Innuendo é um álbum marcado como uma volta às raízes, verificando-se uma retomada às texturas sonoras mais complexas. É bem provável que o trabalho de 1991 não fique devendo muito aos clássicos dos anos 70. É um belo disco. Mais denso que seu antecessor; mais variado e, inevitavelmente, mais melancólico.
A faixa-título evidencia o que seria a “volta às raízes”. Uma canção bastante complexa, com vários movimentos. Os fãs mais antigos provavelmente se deleitaram, pois o Queen voltava a “pesar a mão” nos arranjos e estruturas intrincadas. Mudanças de tom, de andamento, momento com violão flamenco (com o convidado mais que especial, Steve Howe, do Yes), reviravoltas emocionais (“You can be anything you wanto to be”). Música dificílima de cantar, mas Mercury, mesmo abatido pela doença põe todas suas forças nesse número. Robert Plant em 1992, no Tributo a Freddie, tentou cantá-la, mas não obteve sucesso. Tanto que o ex-vocalista do Led Zeppelin pediu gentilmente que sua performance dessa canção não fosse lançada no DVD do evento.
O disco também conta “I’m Going Slightly Mad”. Na época todos assinavam as faixas, mas muito se leva a crer que é uma canção de Freddie. A letra é de um lirismo bonito, cheio de alma: fala de alguém que se vê, gradativamente, perdendo a razão, indo ao encontro da loucura; algo que para muitos significa ir ao encontro da morte. Nunca os sintetizadores foram tão bem utilizados pelo Queen quanto nesta música, dando um clima sombrio. Temos, acentuando esse lado mais nebuloso, a interpretação vocal de Freddie, dessa vez se utilizando de um registro vocal mais baixo que o usual. Isso mostra a versatilidade de Mercury, mas também denota um homem fragilizado, economizando seu fôlego para a epopeia que foi gravar seu último álbum, estando combalido pela doença.
Em “Headlong” temos Brian May nos brindando uma parede de guitarras corpulentas. É um rock bem anos 70 do Queen, no qual eles usaram a boa e velha fórmula de suas canções mais roqueiras: o peso da guitarra e cozinha contrastando com as famosas harmonias vocais.
Em “All Gods People” os fãs podem matar a saudade dos arranjos vocais pomposos da banda, que foram tão importantes nos discos clássicos. Uma canção charmosa, animadora e com poder de levar o ouvinte às alturas. Mais uma vez Mercury dá mostras do seu potencial vocal quase inabalado.
“Delila” talvez seja a canção mais fraca de um álbum no qual se sobressaem músicas de alto nível. Mas não chega a ser vergonhosa, como tantos dizem. É divertida e seu arranjo, embora se valendo de teclados, não cai no cliché da época. Outra característica interessante na música é a guitarra que mia como um gato. Para tal efeito, Brian usa o Talkbox.
E o disco possui uma das faixas que mais transpiram emoção em toda a carreira do Queen: “The Show Must Go On”, feita por May, inspirado na situação do vocalista; é uma das faixas mais bonitas de qualquer fase da banda. E Freddie coloca coração e alma na interpretação. Seu vocal vai às alturas, sem perder potência e dinâmica. Quiçá, a canção mais conhecida do disco – merecidamente. As orquestrações de cordas (feitas no teclado eletrônico), aliadas ao refrão pesado, dão uma carga emocional de alta voltagem para a música. A ponte, que antecede o último refrão (“My Soul is painted like wings of butterfly…”) confere um poder sobrenatural a esse número.
O disco ainda traz mais outras belas canções: “These are the Days of Our Lives” (segundo parece, da lavra Roger) é outra canção-despedida: com uma base instrumental dessa fez bastante simples, tem uma letra nostálgica, que consegue lembrar alguns sonetos de Shakespeare e “In My Life” (dos Beatles), ao mesmo tempo. Brian captou bem o poder emotivo da canção e criou um dos seus mais lindos solos, melódico e melancólico. A interpretação de Mercury dessa vez é doce, sem forçar notas muito altas. Outra canção primorosa é “Hitman”, que traz a banda voltando à carga com um hard rock de nível. Música com a cara de Brian May, no entanto é Freddie quem brilha, soltando sua voz novamente em regiões altíssimas para seu estado físico, numa plenitude de técnica invejável.
A capa do disco – um desenho colorido (idealizado por Queen e Richar Gray e baseado no trabalho do caricaturista J. J. Grandville) em fundo branco – parece nos querer remeter ao grande clássico, A Night At The Opera. Se não se iguala ao disco de 1975, pelo menos chega perto. E, assim, Freddie Mercury se despede em alto estilo e com a cabeça erguida. O que surgiria no catálogo do Queen depois deste álbum são escolhos. Definitivamente, Innuendo é o último trabalho da banda.
News Of The World – 1977
O punk rock colocou em crise todas as bandas clássicas. Principalmente aquelas que se valiam de uma musicalidade ornamentada, como a vertente progressiva do Rock. Embora o Queen, teoricamente, não fosse um grupo de Progressivo, é notório que eles possuíam muitas características desse gênero: arranjos sofisticados, harmonias vocais, melodias limadas, bem trabalhadas. O recado do punk era dizer que isso tudo ficou chato. O minimalismo de riffs com 2/ 3 acordes, vocal sem enfeite (e muitas vezes sem afinação), tudo isso conquistou os críticos de música que sempre esperam algo novo para alardear como regra. A atitude punk também caiu como uma luva para os adolescentes consumidores de música.
Nesse contexto, o Queen enfrentava um mercado pouco favorável aos seus arroubos pomposos. Freddie Mercury era motivo de piada. Um jornal musical estampava o título de uma matéria que continha entrevista com o vocalista: ” Esse cara é um idiota?” Quando ele viu, ficou enfurecido. Freddie também teve que aturar piadas de Sid Vicious enquanto estava no estúdio gravando.
Foi nesse clima que veio a luz News of The World. E, realmente, a atmosfera punk fez a banda repensar muitas coisas. Sem perder a identidade, decidiram mudar algumas abordagens, principalmente nos arranjos e na forma de gravar.
A belíssima balada composta por John Deacon, “Spread Your Wings” era a primeira que não contava com harmonias vocais. A voz de Mercury está mais agressiva, gutural, como se ele quisesse contrapor a suavidade vocal de “Your Take My Breath Away”, do disco anterior. Além disso, a faixa vinha com poucos overdubs. Independente das mudanças de investida nos arranjos, “Spread Your Wings” é um clássico com a marca registrada do Queen. Outra canção que mostra uma “simplificação” no som da banda é “Sleeping on the Sidewalk”, composta por May. A faixa foi gravada ao vivo no estúdio e, além de sua qualidade musical, sedimentada num baixo vigoroso e nos arranjos e solos da guitarra, se destaca como uma das poucas incursões da banda belo blues, contando a história de um trompetista que conheceu o sucesso e o fracasso. Falando em simplicidade, inevitável pensar no hino “We Will Rock You”, levado apenas por palmas e batidas com os pés em tábuas (ninguém entendeu quando começaram a chegar carregamentos de tábuas no estúdio). Guitarra e baixo só entram no final. E que final! Um solo/arranjo que chega dilacerando, paradoxalmente agressivo e melodioso.
Talvez a faixa mais pesada do Queen esteja neste disco: “Sheer Heart Attack” (da lavra de Roger Taylor). Foi o mais próximo que o grupo chegou de uma canção punk. Ela entra direto, sem introdução, com vocal sobreposto em três acordes, guitarra suja e numa velocidade incomum nos rocks da banda. O solo é uma barulheira caótica. Mas no refrão, ainda temos uma característica forte da banda: a sobreposição de vozes. Quando executavas no palco, o Queen muitas vezes fazia estragos nos equipamentos, à moda The Who.
Outra canção pesada, essa mais intrincada, é “It’s Late”. É como se fosse uma canção perdida do primeiro álbum do grupo. Um arpejo cheio de alma nas primeiras estrofes, refrão pesado com várias vozes e intermezzo com aceleração no tempo. Não se tornou clássica, mas é uma boa mostra do hard rock que a banda sempre soube fazer de forma exemplar.
Mas entre momentos pesados, convivem canções pacíficas: “All Dead All Dead” é uma linda balada composta e cantada por May, com direito a orquestrações de guitarra. Freddie faz segunda voz no refrão. Incrível essa canção ser tão pouco conhecida.
“My Melacholy Blues”, uma balada que mais lembra um jazz. Composta por Freddie, que retoma seu falsete cheio de alma. Uma canção que embora seja complexa, com seu arranjo lindo de piano e melodia impecável, foi gravada com poucos elementos. Além do piano e voz, apenas uma marcação tímida na bateria e um baixo bem discreto.
E “We are the Champions”? Talvez seja desnecessário discorrer acerca desta canção-hino que até uma criança de 4 anos conhece. Como canção, é uma síntese da banda: piano, vocal arrojado, arranjos de guitarra sublimes e coros vocais caprichados. Hoje é uma música celebrada, mas, à época, era malhada pelos críticos musicais como uma declaração de soberba da banda. Adjetivos como “fascista” foram utilizados para qualificar o Queen. Mas o tempo é um bom antídoto e geralmente constrange críticos mal-humorados.
No cômputo geral, News of The World, acaba sendo um disco de transição da banda. Mas, mais do que isso, é um álbum que eles resolveram experimentar de tudo. Como classificar “Get Down, Make love”? Seu piano, baixo e bateria sincopados; com sua letra que é uma ode ao sexo. Uma música tão ousada que foi até regravada por Nine Inch Nails (expoente do Rock Industrial). Como classificar “Who needs You”. Reggae com bossa-nova? Inútil tentar. Enfim, a crise que o punk engendrou fez o Queen tentar se renovar como banda. E é um disco que não perdeu seu charme eclético com o passar de mais de 30 anos.
A Day At The Races – 1976
Com A Night At The Opera (1975), o Queen finalmente havia adquirido estabilidade financeira e sucesso incontestável. Embora os discos anteriores a ANATO sejam vistos, hoje, como clássicos, a banda ainda estava vivendo momentos difíceis. Alguns singles de sucesso, como “Seven Seas of Rhye” (Queen II – 1974) e”Killer Queen”( Sheer Heart Attack -1974 ) não haviam torando o Queen uma banda grande; tanto que a iminência de dissolução do grupo era um perigo incontestável. Boa parte desse sufoco se deve a contratos mal feitos. Depois de A Night At The Opera, eles puderam realmente relaxar e colher os louros da vitória. Tanto que para A Day At The Races, despediram de forma amigável seu produtor, Roy Thomas Baker e resolveram se produzirem no estúdio, de forma mais confortável.
Nessa atmosfera foi gravado ADATR. É muito difícil comparar com seu antecessor; muitos falam em queda de qualidade. Talvez. Mas se A Day não possuía uma nova “Bohemian Rapsody”, por outro lado contava com o mega-hit “Somebody to Love”, canção na qual foi usada da mesma petulância da banda em termos de grandiosidade. Os coros feitos através de overdubs não deixam nada a dever a “Bohemian Rapsody”, tampouco a beleza do arranjo. Interessante que com a mesma técnica, eles conseguiram um resultado completamente diferente, haja vista que “Somebody to Love” é um rock com uma forte influência no estilo gospel. Segundo consta em entrevistas, Freddie compôs a canção num período que ouvia muito Aretha Franklin.
Mas nem só de “Somebody to Love” vive A Day At The Races. Outra canção de valor incontestável é “Tie Your Mother Down”, composta por Brian May. Um hard Rock no melhor estilo Queen; um riff poderoso e inolvidável, interpretação magistral de Freddie nos vocais e coro encorpado no refrão. Canção que se tornou indispensável nos shows da banda.
Vindo da Rainha, poucos se espantaram com a valsa-rock n’roll, “The Millionaire Waltz”. Brian diz que usou 10 canais de gravação só para o solo. Uma música que está no panteão daqueles sons mais intrincados da banda, num viés progressivo, mas sem perder o gancho pop.
“You Take My Breath Away” (de Freddie Mercury) é daquelas baladas, assim como “Love of My Life”, que entraram para a história da banda. Arranjo de piano lindíssimo, vocal de Freddie usando bastante a técnica do falsete, dando uma interpretação suave à música. Freddie também gravou sozinho todas as harmonias vocais. E, mais uma vez, Brian May é chamado para fazer suas orquestrações de guitarra. Quem fica sem fôlego diante dessa obra-prima é o ouvinte!
Outro ponto alto desse disco cheio de canções memoráveis é “Good Old-Fashioned Lover Boy”. Incrível como eles se saíam bem quando abordavam canções flertadas com Music Hall britânico. Nessa canção de pouco mais de 3 minutos, há muitas variações melódicas e de harmonias; o solo de guitarra é um dos melhores já compostos por Brian May. O guitarrista certa vez, em uma entrevista, declarou que se sentia mais à vontade para criar solos em músicas que não eram suas. Em “Lover Boy”, ele se sobressai, assim como em “Killer Queen”, outra canção de Mercury.
Os pontos baixos do disco são poucos: a canção de John Deacon, “You and I”, apesar dos arranjos maravilhosos e das nuances e mudanças de tempo, não chega a excelência digna da rainha imposta neste trabalho. Roger Taylor compõe uma canção estranha para o álbum, “Drowse”, sedimentada num slide guitar. É uma boa canção, mas fica bem aquém das músicas de autoria de May & Mercury.
Embora “White Man” não tenha se tornado um clássico, é incontestável seu valor dentro de ADATR. Sob a perspectiva dos indígenas massacrados pelos EUA, é a canção mais pesada do disco. Brian usou afinação em D (ré) para dar mais peso a sua Red Special. Temos um Roger Taylor espancando sua bateria à moda John Bonham.
Enfim, um disco magnífico, que deve estar presente na coleção de todo bom apreciador de rock setentista.
Jazz – 1978
Jazz foi gravado no estúdio Montreaux, na Suíça, para fugir dos impostos britânicos. Estúdio que posteriormente a banda viria a adquirir. Nesse álbum de 1978 eles aprofundam a abordagem mais “simplista”, já desenvolvida no trabalho anterior, News of The World. Por muito tempo foi considerado um disco menor na carreira da banda. Mas quem preferir ignorar as críticas, conseguirá saborear um dos trabalhos mais variados e divertidos do Queen.
“Mustapha”, uma das mais estranhas canções da banda, é também uma de suas melhores. Composta por Mercury, que canta em várias línguas (Inglês, Árabe, Persa), tem uma melodia muito diferente dos padrões europeus. O fraseado da guitarra de Brian assusta e excita o ouvinte, ao mesmo tempo. A mixagem é baixa no início da canção, para logo explodir com vigor e peso. Até hoje nenhuma banda gravou algo parecido.
“Fat Bottomed Girls” é uma homenagem de Brian às mulheres bundudas. Canção cheia de testosterona; Freddie canta como se estivesse seduzindo todas as mulheres que vinham estampadas no pôster do álbum. “Fat Bottomed Girls” foi o mais próximo que a banda chegou de um rock elementar. Não possui solo; em compensação, há tanto na introdução e no refrão um overdub encorpado, com várias camadas de vozes.
Temos em “Jealousy” uma das mais lindas baladas da banda. Uma melodia que acerta em cheio o coração do ouvinte, com suas subidas e descidas. Dessa vez é o piano de Freddie que assume o sedimento harmônico da canção. Brian May se vale do seu violão “trastejante” para criar um som de cítara que abre a música. Mercury, autor da canção, canta com o útero.
“Bicycle Race” parece uma brincadeira, mas não é. Na época parece que não surtiu tanto efeito, mas hoje a mensagem dela permanece intacta: Freddie diz na letra que não está nem aí para os filmes Tubarão, Star Wars e não quer ser presidente dos EUA. Prefere andar de bicicleta. Uma crítica aos blockbusters, ao comportamento “americanizado”. E o que falar do aspecto musical da canção? Algo que só um Queen com uma grande experiência de anos em estúdio conseguiria fazer. Se os punks faziam canções com dois acordes, Freddie Mercury fazia de uma canção de 2 minutos uma miniópera. Paradas no tempo, mudanças de tonalidade, refrãos em lugares imprevistos (que se confunde com a ponte que antecede o solo). Brian May com sua guitarra em camadas cria o que seria a corrida de bicicletas, anunciada no título. A linha de baixo é outro atrativo para o ouvinte mais atento. Enfim, número dos mais fortes e criativos lançados pela rainha.
“Dreamers Ball” seria uma homenagem a Elvis, morto no ano anterior. Mas a música não tem nada de Elvis, a não ser a letra, bem inofensiva. Abre com as guitarras de May em harmonia, criando um efeito inimitável. A canção em suas primeiras estrofes lembra uma bossa nova para, nos refrãos atirar-se no mais sublime pop. Garantia de deleite para os ouvidos.
Em “Let me Entertain You” Freddie passa o recado: quer divertir o seu ouvinte. E consegue! Canção pesada, alicerçada num riff inspirado, que ganha ainda mais força ao vivo. Com essa música eles abriam seus shows no final da década de 70/ início de 80.
O ouvinte nem se recuperou da paulada “Let me Entertain You”, vira o disco e vem riff urgente de “Dead on Time” anunciar que a banda estava matadora nos rocks. E Freddie incontrolável, cantando muito!
Elton John escreveu grandes rocks para piano, como “Crocodille Rock”, mas, sinto dizer, o melhor rock com piano de todos os tempos foi composto lançado pelo Queen e está neste incrível disco (Jazz) : “Don’t Stop me Now” (Mercury). Não é só. Uma das melhores músicas do Queen; e digo mais: um das mais poderosas interpretações vocais de Freddie Mercury.
Há momentos mais plácidos, amenos, nem por isso menos belos ou descartáveis: como não se emocionar com a balada “In Only Seven Days”, de John Deacon ou “Leaving Home Ain’t Easy”, de Brian May. Nesta última, o guitarrista, além de fazer a voz principal, cria um efeito de guitarras sobrepostas no início da canção que lembram violinos.
Momentos baixos? Talvez as canções de Taylor não estejam no nível das demais. Mas “Fun It” é um pré disco bem divertido; e “More of that Jazz”, um rock arrastado, no qual Taylor assumindo o microfone, faz sua melhor performance vocal.
Jazz foi o último álbum produzido pelo seu produtor ideal, Roy Thomas Baker. Em 1980 Mack assumiria a produção da banda e ajudaria o Queen a embarcar em novas sonoridades. Uma banda que até Jazz teve como ecletismo sua via norteadora, a partir de The Game (1980), conseguiriam se tornar mais ecléticos e instrumentalmente diversificados, com a inclusão de sintetizadores. Perderiam muitos fãs, mas ganhariam outros. A rainha se despede dos anos setenta com Jazz, um de seus melhores trabalhos.
Sheer Heart Atack – 1974
O Queen em 1974 tinha em sua agenda uma tour promissora nos EUA, junto com o Mott The Hoople, programada para a divulgação de seu segundo álbum, Queen II, mas Brian May adoeceu. Assim a banda resolveu voltar aos estúdios e gravar mais um disco.
Peça-chave no álbum é “Killer Queen”, que além de ter se tornado um hit, de certa forma consegue sintetizar o que foi o Queen nos anos 70: rock, orquestrações de guitarra, backing vocals trabalhados à exaustão e uma pitada generosa de Music Hall. A letra, inspiradíssima, fala sobre uma prostituta que leva uma vida sofisticada regada a champanhes caros, cigarros e perfumes franceses. Com toda essa ousadia, é notório que não tenham conquistado os EUA; mas outros países, como Japão, não tardaram ao reverenciar o Queen como uma superbanda (embora financeiramente eles estivem quebrados).
Outra faixa importante é “Brigthon Rock”, um rock acelerado, no qual Freddie ora canta em falsetto, ora em sua voz natural, criando, assim um diálogo entre um casal. É nessa canção que Brian May deixa sua marca registrada de guitarrista, com o longo solo-improviso, no qual ele se mostra um músico genuíno, diferente de outros guitarristas ingleses que se sedimentariam suas técnicas no blues. Brian, com câmaras de eco, faz um poderoso exercício de técnica, intercalando fraseados díspares, que conversam entre si.
“In The Lap of The Gods” (a primeira, que abre o lado 2) é pura ousadia; sua rica introdução no piano dá alicerce aos gritos agudíssimos de Roger Taylor e mostra da competência da banda em compor canções complexas. A voz de Freddie teve sua rotação alterada para dar um clima ainda mais experimental, causando estranheza no ouvinte. No entanto, quando chega o refrão, há um retorno à zona de conforto, com um coro vocal lapidado e mais improvisos na voz de Taylor. Essa música tem uma irmã, mais pop, também calcada no piano, “In The Lap of The Gods (revisited)”, na qual podemos perceber um refrão poderoso, daqueles de arrebatar estádios. E que muitos considerariam uma prévia de “We Are The Champions”
Como se não bastasse, Sheer Heart Atack ainda conta com o pré-metal, “Stone Cold Crazy”, que além de ter influenciado Tommy Iommy a compor o riff da canção “Sympthon of Universe” para o Black Sabbath, ainda teve uma regravação de muito sucesso feita pelo Metallica. “Now I’m Here” é uma das canções que jamais deixariam de fazer parte dos shows da banda. Usando o efeito de eco (dessa vez no vocal de Freddie) na introdução para logo engendrar um dos riffs mais celebrados de May. Seria um rock clássico, não fosse a abordagem sempre exagerada do grupo: as harmonias complexas de vozes tornam “Now I’m Here” um rock inconfundível com selo de qualidade do Queen.
Ainda há mais para falar de Sheer Hert-Attack? Sim. “Flick of The Wist”, outra faixa mais experimental, na linha de “in The Lap of The Gods”. Os vocais dobrados e soturnos de Mercury nos primeiros versos se transformam, logo em seguida, em uma sinfonia de vozes no refrão. A palavra de ordem para a banda, à época era “opulência”. Digo, sem medo, que o Queen é banda que foi mais longe em termos de harmonias vocais. Claro, muito devem às possibilidades que os estúdios proporcionavam. Ou seja, a possibilidade dos intermináveis overdubs. O que não tira o mérito da banda, pois para uma simples “segunda voz” já é necessário conhecimento de harmonia, imagina quando se sobrepõem umas 80 vozes?
O disco ainda contém um rock certeiro de Roger Taylor, “Tenement Funster” e a estreia promissora do tímido (mas talentoso) baixista John Deacon: “Misfire”, que é uma canção bem inusitada com seu ritmo caribenho. Funciona bem neste disco que é pura ousadia e ecletismo.
É muito difícil escrever sobre um disco bom; mais ainda quando se trata de um álbum excelente. Sempre ficarão coisas por dizer. Pelo menos não quero deixar de citar a bela music hall “Bring Back That Leroy Brown”. Intrincada, opulenta, permeada de variações em seu andamento, com direito a solo de Ukelele e os já clássicos ornamentos vocais. E dizer que a banda ainda conseguiria se superar com o próximo disco.
A Night At The Opera – 1975
Finalmente chegamos nesse clássico atemporal. Podem acreditar: tudo o que já se disse acerca desse álbum é verdade. Nesse momento fico titubeante ao escrever acerca de um álbum tão celebrado, com inúmeras resenhas e que ainda engendrará mais um sem número de reviews. Haverá algo novo para dizer acerca dessa pérola do rock?
Fazer uma analogia de que é o “Sgt. Peppers” do Queen ajuda a tornar mais didática a abordagem. Muitos podem preferir outros (como é o meu caso; e como é o caso do disco citado dos Beatles – muitos preferem Revolver ou Abbey Road, etc), mas é inegável a importância que esse álbum tem para a história da música. Poucas bandas foram tão longe em termos de riqueza e ousadia. É um disco mais complexo do que muito álbum de rock progressivo, mas, ao mesmo tempo, é extremamente acessível e palatável para todos os gostos.
Tentando ser sintético na resenha deste disco, uma das gafes que não vou cometer é dizer que “Bohemian Rapsody” resume o álbum. Sim, é um momento sem precedentes, em que a banda levou ao extremo suas ousadias no estúdio. Mas ANATO não se trata de um disco convencional, tampouco o trabalho de um único êxito. O Queen se esmerou para fazer o melhor em todas as canções e estilos abordados no álbum. Na verdade é uma suíte que abre com “Death on Two Legs” e fecha com o hino “God Save The Queen”. Como esquecer a Jazz-band criada por May, unicamente com sua Red Special no miolo de “Good Company” (o resultado funciona tão bem, que muitos leigos não se dão conta que se trata várias guitarras em contraponto)? Como esquecer a interpretação sublime e raivosa de Mercury em “Death on Two Legs”; como não lembrar os vocais arrogantes e arrojados de Taylor em “I’m in Love with may Car”; como esquecer o sublime arranjo de “Love of my life”(que transcende o que chamaríamos de rock – é música universal) com direito a harpa e uma orquestração de guitarra capaz de sensibilizar um boxeador? Como esquecer a beleza pop de “You’re my Best Friend”; como esquecer o folk espacial, intrincado de May em “39′”? Como esquecer de “Prophet Song”, declaração pesadíssima e opulenta de Brain May? Sim, me esqueço de muita coisa. Mas o que eu esqueci pode ser lido em outras resenhas.
Cabe citar que o álbum não foi gravado num clima muito festivo. Havia tensão no ar. Mesmo com a qualidade excepcional dos discos anteriores, a aclamação do público, eles estavam entre a cruz e a espada: pagaram um preço altíssimo para se livrarem de seu antigo manager, e contrataram John Reid (que já havia trabalhado com Elton John). Se o disco não desse certo, eles seguiriam suas profissões (para as quais haviam se diplomado) e, ainda por cima endividados, pois os gastos com o álbum foram astronômicos. A única orientação de John foi: “façam o melhor álbum que puderem”. E eles fizeram. Era tudo ou nada.
Brian May responde às críticas de que eles gastaram muito dinheiro e tempo nos estúdios: “não estávamos fazendo porcaria, estávamos produzindo arte”. No meio dessa turbulência, quase perderam o seguimento operístico de “Bohemian Rapsody”. Eram inúmeros overdubs e a fita original já estava gasta de tanto sobreporem vozes, quase transparente. Tiveram, então que transplantar os vocais para uma fita nova, algo que acarretou numa sensível perda de qualidade e uma leve distorção. Mas o que era para ser um problema, acabou se tornando um charme, pois o efeito de saturação nos vocais múltiplos conferiu um efeito positivo na gravação.
Com A Night At The Opera finamente lançado, acalmaram-se os ânimos. O sucesso de crítica e público e as altas vendagens tiraram a banda do buraco. Da história do Queen podemos tirar grande proveito para nossas vidas: nenhum sucesso é por acaso (a não ser quando se trata de lixo pré-fabricado para agradar um público mais raso). Assim como os Beatles que passaram muito tempo maturando seu som em apresentações nas espeluncas de Hamburgo, o Queen teve que roer um osso duro até poder dizer que eram os “campeões do mundo”. Por muitos anos foram banda de abertura do Mott The Hoople, por muitos anos não viram o devido reconhecimento. Mas uma inabalável autoconfiança (principalmente por parte de Mercury) fez com que eles se superassem. Muitos teriam desistido no meio do caminho.
Queen II – 1974
O disco de estreia foi gravado no Trident Studio, nos horários mortos, quando os artistas já consagrados terminavam suas sessões. Com exceção de Roy Thomas Baker, ninguém levava a banda muito a sério. Dessa forma o primeiro disco foi gravado nas maiores adversidades possíveis. Já Queen II eles puderam limar melhor seu trabalho. Provavelmente a banda deu muita dor de cabeça para seu produtor, Baker. Seguindo no mesmo nível de qualidade do álbum anterior em termos de composições, agora eles tinham acesso a toda parafernália necessária para dar corpo ao que eles almejavam, para lapidar com calma seu som.
O disco é dividido em Lado Branco e Lado Negro: o Lado Branco é dedicado às composições de Brian May (com exceção de “The Loser in The End”, de Taylor). Já o lado negro do disco é dedicado a composições de Freddie Mercury.
Começamos, então, com o “lado Branco”: A vinheta instrumental “Procession” já dá as cartas e prenuncia um disco com grades ousadias: uma faixa que Brian May usa de orquestrações de guitarra para criar uma marcha fúnebre, inspirada na obra do célebre compositor Henry Purcell (1659-1695). Uma das mais lindas aberturas que um álbum poderia ter. Logo em seguida a banda bota para derreter num rock que contrasta beleza de melodia e peso: “Father to Son” É inevitável a presença marcante dos backing vocals. Um refrão poderoso se faz presente, assim como uma parte mais pesada, na qual May homenageia seu herói: Jimi Hendrix. Um dos melhores momentos da bolacha. Outra canção memorável de May está neste lado: “White Queen”. Como nada é simples quando se fala em Queen dos anos 70, há uma melodia linda, bem talhada em cima de um dedilhado de violão. O solo na sua parte acústica , May utiliza seu violão com uma regulagem diferenciada no “nut”, enquanto uma harmonia etérea de vozes vai ganhando corpo até chegar no ápice que é o solo de guitarras. Uma das melhores canções feitas por Brian May, aliando uma letra melancólica e um crescendo dramático. O guitarrista também não faz feio em uma canção mais folk, “Someday One Day”. Além de assumir os vocais, trabalha arduamente no solo da canção, que na verdade é uma profusão de frases de guitarra e violão, o que cria uma massa sonora psicodélica. Fechando o lado branco, temos Roger Taylor com um rock mais ortodoxo, “The Loser in the End”. Contrastado com esses três êxitos de Brian May, a faixa, embora boa, fica um pouco obscurecida no fim dessa primeira parte. Mas ainda assim, é uma canção boa. Taylor se sobressai na bateria. Além disso, o clima caótico de guitarras fazem dessa a música mais pesada do disco.
Mas é no lado negro que a coisa começa a ficar perigosa; “Ogre Battle” abre a coleção de músicas de Freddie. Reza a lenda que foi ele quem compôs os riffs da música no piano. E é um senhor riff – rápido/afoito! Muita banda de metal foi amamentada por essas excentricidades do Queen. É um número bem pesado e cheio de nuances, incluído a luta entre os “ogros”, cujo efeito foi criado por May, com guitarras sujas e sobrepostas, de forma dissonante. Durante muito tempo, foi uma canção bastante executada no palco. Cabe dizer que não se trata de um rock ortodoxo. Além do riff devastador, as harmonias vocais megalomaníacas que soam nos alto-falantes com tanto ímpeto quanto as guitarras, mostram que a banda não estava para brincadeira. Fazer rock para eles não era pegar uma fórmula de blues e acrescentar peso. Era mais do que isso. Era abuso nas escalas, era o complexo, era violentar padrões.
Como contraste a “Ogre Battle”, uma canção mais progressiva, “Fairy Fellers – Master Stroke”, inspirada no quadro homônimo de Richard Dadd. Com um pouco de vaudeville, muita personalidade e arranjos complexos, a canção é um ponto alto num álbum cheio de culminâncias.
A linda vinheta “Nevermore” é uma abertura para a canção mais ousada do disco “March of The Black Queen”. Nessa canção a banda se superou, provavelmente quase teve um esgotamento nervoso, tamanha é a complexidade. O produtor deve ter suado muito, também, para abarcar a profusão de ideias da banda. Há muito fã que prefere esta canção a “Bohemian”. É uma questão de gosto. Mas o mais importante é que ela quebra o velho paradigma de que “Rapsody” é a primeira faixa que a megaprodução em estúdio da banda chega no seu ápice. Eles já haviam chegado com “The March of the Black Queen”. E que canção fantástica! É rock progressivo, mas numa abordagem que somente o Queen faria: há um refrão forte, há nuances, mudanças de tempo, há um andamento pesado e um final falso. Mais do que tudo, não é uma música enfadonha, apesar de ser longa. O ouvinte nem sente o tempo passar, por que a canção, com exceção do refrão, não se repete; são várias ideias contidas numa única peça. Uma míni ópera, assim como “BoRap”.
“Funny How Love Is” já é uma canção mais simples, embora abuse dos vocais e percussões. É o momento que o ouvinte tem para respirar e relaxar um pouco sua atenção. Por que depois vem “Seven Seas of Rhye”. O fecho perfeito para esse álbum magistral. Uma canção que acontece de tudo em pouco mais de dois minutos. Todo o poder, toda a força instrumental e vocal do Queen está nesta canção enxuta.
Queen II não chega a ser um disco fácil, embora tenha muitos ganchos melódicos. Mas ele vai melhorando a cada audição, pois é daquelas obras riquíssimas em detalhes. Nunca é a mesma sensação ouvir este disco. Cada audição é única. O disco se renova cada vez que colocamos a agulha no vinil. Não a toa está nessa posição.
A capa deste álbum se tornou icônica. Foi fotografada por Mick Rock. No ano seguinte serviria de mote para a composição do primeiro videoclipe da banda, de “Bohemain Rapsody”.
Queen – 1973
Quebrando todas as expectativas, o primeiro álbum da banda está na posição máxima nessa humilde análise. Em primeiro lugar gostaria de dizer que todos os últimos álbuns aqui analisados estão no mesmo patamar de grandeza. E não há ninguém que escreva que seja totalmente isento. Aqui entra o meu gosto. Se refutarem a primazia que coloquei na estreia do Queen, é algo que não me abalará. O que me resta é dizer por que considero tanto este LP.
Era a banda em seu início. Batalhando para conseguir um contrato. Enquanto ensaiavam no estúdio De Lane Lea (cujo pagamento das horas era efetuado por John Deacon, através de sua mão de obra na manutenção dos equipamentos – é o bom lembrar que o baixista era formado em eletrônica), foram vistos por Roy Thomas Baker, que se encantou com a banda. Com ajuda deste último, conseguiram horários de baixo movimento no estúdio Trident (onde gravavam artistas com a carreira consolidada, como David Bowie e Elton John). A banda tinha um punhado de boas canções e aceitou o desafio. Os engenheiros de som trabalharam de forma voluntária. As gravações, em sua maioria, foram gravas na madrugada, que eram os horários de baixo movimento do estúdio. Entre gravações e mixagem, o álbum foi gestado entre junho e Novembro de 1972, mas só foi lançado em julho de 1973, devido à dificuldade de encontrarem um selo. No fim acabaram na EMI.
Brian relembra que após o lançamento do disco, procurava nas listas de mais vendidos e não encontrava o álbum. Ia às lojas e não encontrava o disco. Demoraria muito para eles atingirem o tão almejado sucesso. Restou para a banda trabalhar como coadjuvante, abrindo shows de uma banda famosa, à época, Mott the Hoople.
Mas sucesso era um detalhe. O disco apesar de ter sido gravado às pressas, com orçamento reduzido e condições desfavoráveis, é uma obra-prima, que só o tempo se encarregaria de mostrar. No mesmo ano, o citado Mott The Hoople, para o qual o Queen abria os shows, lançou seu aclamado Mott . Mas Queen I era infinitamente melhor. Talvez o atraso do lançamento tenha sido fator que obscureceu por muito tempo o disco. Enquanto o Queen procurava um selo, David Bowie estava lançando seu estrondoso sucesso Ziggy Stardust and Spiders from Mars. May conta que ele se sentiu como se tivesse perdido o bonde, já que o Queen I tinha uma proposta bem parecida (ainda que não fosse um disco conceitual, como o de Bowie): era rock com pompa e teatral.
Glam? Apesar do visual, eles nunca se consideraram Glam. Segundo May era uma banda de hard rock com flerte no progressivo. Talvez o visual espalhafatoso da banda tenha deixado essa impressão. O Queen não era só “rock n’roll com batom”, como dizia John Lennon. Era rock bem feito, com ousadia de querer chegar longe.
Um dos maiores clichês da história da crítica do rock n’roll é dizer que o grupo em no seu primeiro álbum estava procurando identidade. Uma canção como “Keep Yourself Alive” já dá mostras do que era a banda: seus vocais gravados em cascata, no qual cada verso foi gravado separadamente criam um efeito inovador (antes de um verso acabar, já começa outro e eles se entrelaçam), assim como a guitarra de Brian May, num riff que se confunde com a base. E já temos a sobreposição de solos em contraponto. Enfim, uma das grandes aberturas de um disco de rock! Muitos críticos reclamaram do uso abusivo de sintetizadores, mas era May e sua guitarra que criavam aqueles sons. A canção “My Fairy King” já dá mostras do que seriam as grandes canções da banda com flerte no progressivo. Uma música curta na qual tudo acontece. Abre com os gritos femininos de Taylor, junto com um piano nervoso e frases de guitarra para depois amenizar num trecho de balada e dar reviravoltas até uma enxurrada de pianos no final. Sim, os vocais harmonizados já estavam presentes.
“Doing All Right” é composição ainda do Smile (banda embrião do Queen, que contava com Roger, Brian e Tim Staffel). É outra faixa imprevisível: abre com um piano e voz ainda doce Mercury (que, à época, não fumava) cantando em falsete. Alguns segundos depois a faixa tornar-se pesada e encorpada, para em seguida cair num intermezzo acústico com um quê de bossa nova. E mais uma vez o ouvinte dá um pulo do sofá com a maçaroca de guitarras num riff à moda Led Zeppelin. Por fim a canção volta a seu ponto de origem: o piano, Mercury em falsete delicado.
“Great King Rat” é uma das pauladas mais fortes da banda. Pesada, fora dos padrões comuns de rock. Na verdade um dos rocks menos ortodoxos do Queen. Muita energia e testosterona nessa cação composta por Freddie. No solo de guitarra, Brian May duela consigo mesmo, com uma guitarra gravada em cada canal. Lá pelo meio o tempo muda completamente. Muda tom, muda padrão de harmonia. E lá pelas tantas a canção ressurge avassaladora. Para quem é fã de Queen, trata-se de um hino. A versão do Queen at the Beeb também é magistral e, ouso dizer, até melhor do que a original do disco.
“Liar” é simplesmente uma profusão de riffs. Uma porradaria, contrastada com os backing vocals femininos no refrão, nos quais sobressai a voz de Taylor. Como em quase todas as músicas do Queen neste álbum, tudo acontece na faixa. Paradas, idas e voltas, solos mudanças de tempo, solo de baixo. Freddie foi o grande responsável por essa abordagem. Dizia ele, na época: “larguem esse lance de blues e façam algo mais arquitetural”. Uma canção como “Liar” estava muito a frente do que a maioria das bandas de hard rock faziam. Na época em que o Queen foi criado e batizado por Mercury eles entraram num acordo um tanto estranho quanto a autoria das composições: Freddie delimitou: “querido, quem escreve a letra, é o autor da canção”. Algo que viria causar certo ressentimento em Brian May, já que em “Liar”, por exemplo, tem muitas ideias que são do guitarrista. Essa situação só mudaria a partir de The Miracle I(1989), disco no qual todos assinam as faixas. Mas acredito que eles acataram a ideia de Freddie, pois o vocalista era o maior entusiasta na banda, o cara que não perdia a esperança e sabia que o grupo seria grande. Os outros integrantes, ainda que dando o melhor de si, eram um pouco mais cautelosos, pois já vinham de uma banda que não deu certo: o Smile. John Deacon não opinava. O baixista acreditava que a banda duraria o suficiente para mais uns dois discos, somente. Deixaram de bom grado a responsabilidade de liderança nas mãos de Freddie. Os problemas de direitos autorais viriam depois do sucesso.
Queen I ainda tem mais pérolas: possui uma das baladas das mais bonitas e obscuras da banda, “The Night Comes Down”, permeada de violões, mas jamais foi tocada ao vivo pelo grupo. “Son And Daughter” é outra faixa pesadona, escrita por Brian. Um rock virulento para Black Sabbath nenhum botar defeito. “Jesus” é outra canção poderosa; esta escrita por Freddie. A despeito da temática religiosa, flerta numa boa com o hard rock e tem fraseados inspiradíssimos da guitarra de May. É outra canção que, não se sabe por que, não foi executada ao vivo.
A vinheta “Seven Seas of Rhye fecha o trabalho (ela viria aparecer na íntegra, no segundo disco da banda). Mas novas edições contêm algumas preciosidades, como “Mad the Swine”, além das demos gravadas no estúdio De Lane Lea.
Queen I, ouso dizer, foi uma das mais revigorantes estreias do rock num período que as bandas como Rolling Stones começavam a perder o fôlego. Reiterando: o Queen já estava pronto em 1973; Brian e Roger já eram músicos experientes (com um adendo: experiência no fracasso). Freddie Mercury já havia cantando em algumas bandas voltadas para covers. Se não tinha tanta experiência quanto os dois, sobrava-lhe ânimo para arquitetar o estilo e a pompa do Queen.
Texto de Leonardo da Silva Alves
Fonte: http://whiplash.net







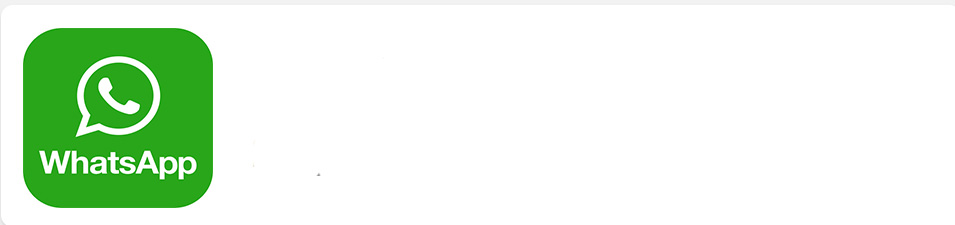

Deem os meus parabéns ao Leonardo, é um primor* o texto que ele escreveu.
Continuem fazendo matérias e trazendo novidades. Estou sempre clicando aqui…
* Trabalho muito dedicado ou feito com perfeição. Grande amor na execução de algo. Grande qualidade. Excelência.
Ótimo artigo. De fato, o Queen foi a única banda de rock que fugiu da fórmula da época, a de acrescentar peso e velocidade ao blues.